Quando morei em Israel, ocorreram duas operações militares: Pilar Defensivo (2012) e Margem Protetora (2014). A primeira durou uma semana, enquanto a outra arrastou-se por quase dois meses.
Na primeira vez que precisei me esconder em um abrigo antibomba, eu estava na universidade. Passado o susto, fiquei sem saber exatamente o que fazer; se deveria voltar correndo para o apartamento que ficava do outro lado da cidade ou se deveria permanecer no campus, onde pelo menos não estaria sozinha. Na dúvida, liguei para o Brasil e conversei com a minha mãe, o que virou rotina.
Eu sabia o que era ter uma arma apontada para a cabeça durante um assalto. Por três vezes, estive na mira de um revólver. Mas eu não fazia ideia do que era ter de se esconder em um abrigo antibomba. No assalto, a gente faz de tudo para manter a calma enquanto entrega ao assaltante a mochila, o dinheiro, o celular, a bicicleta ou a chave de carro... A gente também reza baixinho para que ele não tente qualquer outra coisa pior ou resolva puxar o gatilho.
Em um ataque aéreo, a gente também precisa de calma para conseguir cumprir as medidas de segurança. Apenas rezar não adianta. Ao escutar o toque da sirene, o mais urgente mesmo é você conseguir avaliar se vai ter tempo para encontrar uma maneira de se proteger.
Eu não tenho pesadelos com os assaltos que sofri no Recife, mas ainda sonho com as bombas em Israel e com a impossibilidade de encontrar um lugar para me esconder durante um ataque, ainda que eu tenha plena noção de que tive muita sorte de viver em uma área relativamente segura, onde contar o tempo da porta do apartamento para o abrigo antibomba fazia sentido. Pois, em outras regiões afetadas pelo mesmo conflito, essa contagem chega a ser tão supérflua quanto a vontade de rezar.
Nessa última semana, ao acompanhar as notícias sobre a Ucrânia, lembrei-me, imediatamente, das coisas que ouvi, vivi e testemunhei e das pessoas que conheci em Israel: palestinos, beduínos, eritreus, etíopes, iraquianos, líbios, iranianos, turcos, iemenitas, filipinos, sul-africanos, marroquinos, libaneses, indianos, poloneses, ucranianos, russos, uzbeques etc.
Gente de toda parte do mundo, cujas vidas estariam para sempre marcadas tanto por aqueles mesmos conflitos vivenciados por mim, como pela lembrança de guerras, perseguições e êxodos que aconteceram em outras épocas e em uma infinidade de outros lugares.
Lembrei, também, de alguns refugiados da Síria que conheci posteriormente, durante o período em que morei em Berlim, em 2015. Estudantes que frequentavam o mesmo curso de alemão que eu, com quem eu tomava um café durante os intervalos das aulas e mantinha conversas que nunca fluíam com naturalidade, pois eles não eram proficientes em inglês, e nem o alemão que falávamos era suficiente para expressar muitas das verdades que ansiávamos compartilhar.
Assim, falávamos do que podíamos, com as palavras que tínhamos, como se, ao perguntarmos sobre a previsão do tempo ou a qualidade do café servido na recepção do curso, talvez estivéssemos realmente tentando dizer: "Eu sinto muito. Espero que a sua família esteja em algum lugar seguro. É uma vergonha tudo isso que está acontecendo". Se é que realmente queríamos dizer alguma coisa, pois a sensação que tenho é a de que falávamos simplesmente para enganar o tempo.
Quem trata muito bem desse assunto é a escritora italiana Natalia Ginzburg, cuja vida foi terrivelmente marcada pela ascensão do regime fascista e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Em alguns dos seus ensaios publicados na coletânea "As Pequenas Virtudes" (1962), ela escreve sobre as consequências da guerra e da perseguição política tanto na produção literária como na vida das pessoas.
Uma dessas consequências é o silêncio que aparenta atravessar os nossos textos e relações, como se o nosso vocabulário fosse insuficiente para dar conta das nossas experiências:
"[As] grandes palavras velhas, que serviam aos nossos pais, são moeda fora de circulação e ninguém as aceita. Quanto às novas palavras, percebemos que não têm valor: com elas não se compra nada. Não servem para estabelecer relações, são aquáticas, frias, infecundas. Não nos servem para escrever livros, nem para manter ligada a nós uma pessoa querida, nem para salvar um amigo".
O que, então, podemos dizer da dor dos refugiados? Dos velhos que precisaram ser deixados para trás em cidades transformadas em campos de batalha? Das crianças que morreram ao serem atingidas por balas perdidas e estilhaços de bomba? Dos bichos em pânico?
Dos órfãos e das viúvas e dos pais que perderam os seus filhos e das famílias cujas casas foram destruídas, na Ucrânia e em outros conflitos ao redor do mundo, dando-lhes a impressão de que, embora quase tudo nessa vida ainda possa ser recuperado, nada mais será como antes?
Em outro ensaio do livro, Natalia Ginzburg destaca que quem passa por uma guerra perde a tranquilidade:
"Não há paz para o filho do homem [...]. Cada um de nós uma vez na vida se iludiu achando que podia dormir sobre qualquer coisa, apossar-se de uma certeza qualquer, de uma fé qualquer, e então repousar o corpo. Mas todas as certezas de antes nos foram arrancadas, e a fé jamais será algo em que enfim se possa mergulhar no sono".
Há, no entanto, quem comente a guerra com a mesma tranquilidade que foi arrancada dos que estão vivendo as consequências de um conflito, como se estivesse respondendo a um exercício acadêmico, como se o horror pudesse ser justificado através de palavras esdrúxulas, que aprendemos a reproduzir dos manuais de história, de direito, de filosofia e de tantas outras disciplinas.
Pergunto-me, portanto, o que essas pessoas acham que estão fazendo, do que elas acham que estão falando e para quem, com qual objetivo.
Sobre essas questões, Ginzburg nos chama a atenção para o fato de que precisamos tentar ser honestos com o que nos propomos a dizer. Afinal, quem acha que pode falar sobre qualquer coisa corre o risco de se enganar e de enganar os outros com "palavras que de fato não existem em nós, que pescamos por acaso fora de nós e que enfileiramos com destreza porque nos tornamos muito espertos".
Essa esperteza pode até nos iludir de que estamos mais aptos a ditar o que é justo. Porém, ao nos defrontarmos com a realidade, logo percebemos que ela nada justifica nem salva vidas, nem nos ajuda a lidar com a dor do próximo. Enfim, o preço a ser pago por sermos tão espertos é o de jamais sabermos o quão difícil é ser humano.





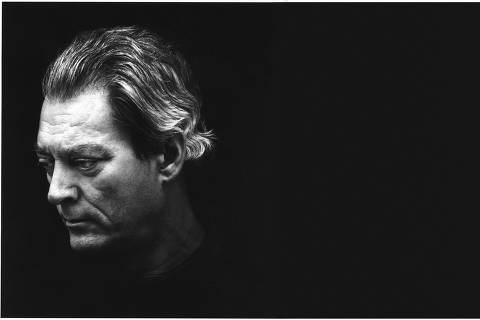

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.