Foi no meu aniversário de dez anos que ganhei o meu primeiro diário: um caderninho cor-de-rosa com direito a capa acolchoada e cadeado, cujo interior dividia-se em páginas azuis e amarelas.
O presente foi ideia da minha avó paterna, Olga, com quem eu sempre dividi muitas das minhas inquietações. Vovó e eu formávamos uma dupla extraordinária. Quando não nos encontrávamos, falávamos ao telefone, e algumas das minhas primeiras memórias são justamente dos momentos em que passávamos juntas, a fazer companhia uma a outra no antigo apartamento dos meus pais; ela em suas anotações e, eu, ainda muito pequena, a imitar cada um dos seus movimentos, convencendo-me de que também estava a escrever.
Tudo de vovó sempre prendeu a minha atenção, desde a maneira como ela penteava os cabelos, fios os grisalhos emoldurados por uma mecha branca, até o jeito dela mergulhar os pedacinhos de pão no leite morno com canela, um dos seus lanches prediletos.
Cada gesto da minha avó era naturalmente preciso e delicado, a manifestar reverência pelas coisas mais simples, típico de quem aprendeu a conviver com o desterro, a separação e a morte sem jamais perder a noção de que a vida pode ser muito difícil, mas, também, reserva poderes restaurativos.
Quando vovó estava escrevendo, todas estas suas características ganhavam intensidade, dando-me a impressão, pelo modo como ela conduzia a caneta sobre o papel, de que a escrita era algo tremendamente importante.
Assim, nunca me surpreendi de que houvesse sido ela a responsável por me presentear com um diário justamente por ocasião dos meus dez anos, fase em que as coisas costumam mudar de repente, com uma rapidez que, muitas vezes, não nos permite refletir sobre os acontecimentos.
No começo, tive dificuldades para saber como e o que anotar no meu caderninho. O hábito de se fazer do diário uma espécie de confidente sentimental ainda não havia despertado o meu interesse. Eu também não via muito sentido em registrar o cotidiano, descrever roteiros de viagem etc.
Somente depois de algum tempo, já no ensino médio, ao me deparar com o romance "1984", de George Orwell, foi que entendi que um diário poderia ser o espaço para se guardar reflexões e ideias sobre questões prementes.
Na época, nenhuma outra cena do livro me marcou tanto como o momento em que, segundos antes de iniciar as suas anotações, o personagem Winston Smith lembra-se de haver comprado o caderno de folhas creme em uma lojinha de cacarecos, em algum lugar da sua decadente cidade.
A experiência de Winston parecia-me confundir-se com a que eu tive por viver no centro do Recife, meio ao excesso de papel e a agitação dos cartórios, a percorrer estabelecimentos igualmente paralisados no tempo: os sebos da Rua do Progresso, as lojas de discos da rua Sete de Setembro e as de móveis usados da rua da Conceição.
Ambientes cavernosos, apinhados de quinquilharias, por mim frequentados na esperança de encontrar algo de realmente extraordinário que justificasse o esforço das minhas caminhadas sob o sol escaldante daquelas tardes.
Foi em uma tradicional papelaria da rua do Hospício, a Papecópia, onde aprendi a escolher os meus instrumentos de trabalho, papel, caneta e lápis, onde que comprei o caderno que veio a se tornar o meu diário de adolescência, que era, na minha imaginação de menina, igual ao do personagem de Orwell.
Hoje, nem a papelaria, nem o caderno mais existem: uma transformou-se em loja de produtos chineses, o outro desfez-se em cinzas, como boa parte do que escrevi na adolescência. Toquei fogo nesse diário por vergonha da minha própria ingenuidade e da redação que vira e mexe ganhava um ar grandiloquente; como se eu tivesse respostas para todos os problemas do mundo.
Somente em 2008, quando me preparava para a minha primeira viagem a Israel, retomei o costume de manter um diário. Embora muita coisa tivesse mudado desde a minha adolescência, durante todos esses anos mantive as minhas anotações em cadernos de folhas de cor creme, todos da mesma marca e no mesmo formato —pequenos o suficiente para serem carregados na bolsa sem fazer volume e robustos o bastante para suportar o excessivo manuseio nas mais diversas circunstâncias.
Nesse período, o meu diário cumpriu uma série de funções. Houve uma fase, no começo da minha vida no exterior, em que eu anotava recordações do Brasil e impressões sobre o meu primeiro casamento. Em outro momento, passei a contar os sonhos que levava para discutir com a psicanalista. Mais tarde, comecei a copiar poesias e citações, a registrar opiniões, elaborar listas e a fazer comentários sobre o progresso do meu trabalho.
Vovó estava certa. Escrever para mim mesma, com o intuito de refletir sobre o que se passa na minha vida e com os meus próprios sentimentos, acabou me ajudando a eleger prioridades, reavaliar situações e escapar de enrascadas. Assim, mesmo que, em algum momento, esses cadernos venham a ser destruídos, por enquanto eles me ajudam a pensar.
Gosto de abrir os cadernos dos anos anteriores e perceber como algumas das minhas ideias e relacionamentos começaram a tomar forma sem que eu ainda fizesse mínima noção do que estava para acontecer. Muitas vezes, inclusive, recorro aos diários para reelaborar questões que, incidentemente, acabo transformando em algumas das colunas que escrevo para a Folha.
Em um dos seus ensaios, Hannah Arendt faz o seguinte comentário: "Tudo que vive (...) por mais forte que seja sua tendência natural a orientar-se para a luz, (...) precisa da segurança da escuridão para poder crescer."
Eu sempre acreditei que as palavras fossem dotadas de vida. Talvez, por isso mesmo, nunca duvidei de que elas também precisassem de tempo e espaço para germinar em segurança —quem sabe, em nossos diários— antes de serem finalmente postas no mundo.
Vovó Olga morreu em 4 de julho de 2007. E, como os povos antigos costumavam enterrar os seus mortos com algo desta vida que pudesse lhes fazer companhia no outro mundo, depositei em seu caixão a minha primeira publicação: um ensaio sobre a passagem do tempo e o lugar da morte na experiência humana, algo que escrevi na tentativa de compreender a sua partida e que jamais teria existido não fossem as nossas conversas e o meu primeiro diário, aquele caderninho cor-de-rosa que ela me deu presente.





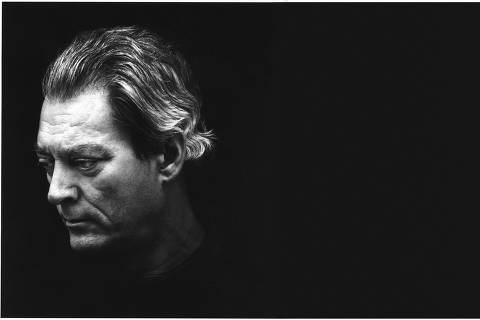

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.