Cresci em um casarão construído na primeira metade do século 20, cercado de árvores e bichos de todas as espécies. No quintal, tínhamos pé de manga, jambo, pitanga, graviola e caju, além de coqueiros, bananeiras, goiabeiras e uma rica variedade de ervas que usávamos para remediar qualquer tipo de mazela: boldo para indigestão e ressaca, erva-doce para cólica, capim-santo e camomila para aliviar o estresse e mastruz para combater inflamações.
Entre as plantas, passeavam formigas, soldadinhos, abelhas, lagartas, borboletas e cigarras. Na copa das árvores, viviam bem-te-vis, pardais e sabiás. Volta e meia, maritacas e aves de rapina também davam as caras e a passarada ficava inquieta. Ao sol, lagartixas imensas disputavam espaço no oitão da casa, sempre a balançar as cabeças como se estivessem conversando umas com as outras.
Quando estava prestes a escurecer, era a vez dos morcegos entrarem pelas grades do terraço a realizar acrobacias no vão da escada, como se estivéssemos em um filme do Drácula. Já de madrugada, os timbus equilibravam-se nas fiações da rede elétrica e passavam de um quintal para o outro, com surpreendente agilidade, provocando os nossos cachorros e os da vizinhança.
Também criamos gatos, passarinhos, peixes e tartarugas. Houve até mesmo uma época em que a minha avó mandou construir um pequeno galinheiro no fundo do quintal para abrigar três frangotes que os meus primos mais novos haviam comprado em uma exposição de animais.
Quando crianças, eu e os meus primos passávamos a manhã no quintal, a usufruir de uma liberdade a que raramente tínhamos acesso nas nossas escolas e nos apartamentos dos seus pais: subíamos em árvores, pulávamos muros, tomávamos banho de mangueira, assávamos salsichas em fogareiros de barro, jogávamos bola e cavávamos buracos imensos na esperança de descobrirmos algum tesouro.
O quintal também era um lugar de aprendizado, pois era mexendo com a natureza que a gente aprendia sobre a vida e o seu ciclo e passava a colocar em perspectiva o que acontecia dentro da casa —quando, por exemplo, eu acompanhava de perto a gravidez e o parto das minhas tias mais jovens.
Foi justamente nessa época em que ganhei da minha mãe um dos meus livros prediletos de infância, "O Ambiente do Quintal" (1991), de Samuel Murgel Branco, que muito me ensinou a observar o verdadeiro tesouro que me cercava.
Em época de jambo, uma parte do quintal ficava coberta por um imenso tapete cor de rosa. Na estação de manga, juntávamos sacos e mais sacos da fruta a serem distribuídos entre amigos e familiares. Na vez da goiaba, da banana, do caju e do coco, a minha avó caprichava nos doces, a serem servidos, seja depois do almoço, seja no final da tarde, na hora do cafezinho, quando começavam a chegar as visitas.
Nunca conheci uma casa tão movimentada como a nossa! No terraço, deitada com a cabeça em uma enorme almofada azul, eu ficava à espreita dos lanches enquanto prestava atenção nas conversas dos adultos. A minha avó tinha oito irmãos, seis mulheres e dois homens. Eles nem sempre se viam todos de uma só vez, mas costumavam aparecer lá em casa em dias alternados.
Das muitas reminiscências que os irmãos compartilhavam entre si, a minha avó comentava sobre a época da guerra, de quando estudava em um internato e precisava cobrir as janelas do seu quarto para não deixar escapar qualquer luminosidade, por medo de um possível bombardeio.
Ela e os irmãos também comentavam como o pai havia se estabelecido no Brasil. De tanto ouvir essas lembranças, eu costumava pensar que deveria existir algo em comum entre mim o restante da família da minha mãe; qualquer coisa de imaterial que, ao tornar-se evidente a partir das nossas semelhanças físicas, fosse capaz de oferecer uma explicação para o interesse e o cuidado que nutríamos uns pelos outros.
A minha avó também recebia a visita das amigas do bairro e de gente antiga que havia trabalhado para ela e para o meu avô. Havia, igualmente, quem chegasse do interior para passar uma temporada conosco enquanto tratava da saúde.
Dessas pessoas, eu ouvia histórias de hospital e de doenças terminais. Algumas, provavelmente à beira da morte e já sem saber o que fazer para não entrar em desespero, relatavam casos de curas milagrosas e pediam autorização para preparar infusões a partir das nossas plantas. Outras reportavam experiências religiosas e sobrenaturais.
Na minha cabeça, todos esses relatos se misturavam e serviam para trazer o mundo e a história para dentro do nosso quintal, a emprestar uma dimensão humana ao que eu vislumbrava na natureza.
Foi assim que, apesar de muito gostar de observar plantas e animais, eu descobri que jamais seria médica ou cientista, porque o que realmente me interessava não eram os processos orgânicos ou os padrões de desenvolvimento e comportamento animal, mas o modo como as pessoas recorrem à natureza na arriscada tentativa de justificar dramas privados ou sociais, como se tudo não passasse de um espelho das suas emoções.
Sempre muito reservada, a minha avó dificilmente interrompia ou contestava os visitantes. Quanto mais absurda a história, mais ela deixava que a visita falasse livremente, entre uma xícara de café e um pedaço de goiabada, como se soubesse que a pessoa estava ali justamente para, enfim, ter com quem desabafar.
Foi assim, com um olho no quintal de casa e outro nas conversas da minha avó, que cresci aprendendo a conviver com a natureza e a escutar histórias, atenta ao estranho paradoxo que informa a condição humana; de que, ao mesmo tempo que somos capazes de criar coisas novas e surpreendentes a partir do nosso conhecimento da natureza, permanecemos, muitas vezes, ligados a crenças que nos impedem de aplicar esse mesmo engenho na solução dos nossos próprios problemas.
Para a minha mãe.





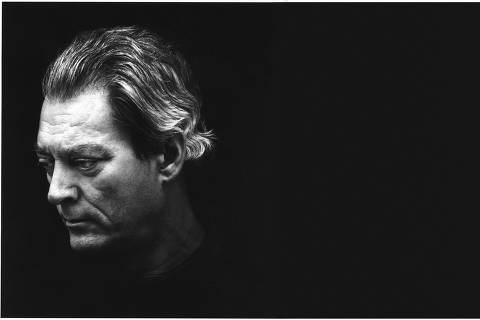

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.